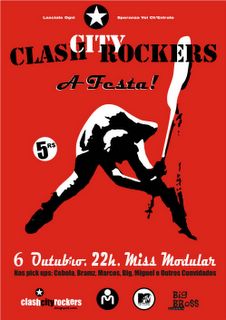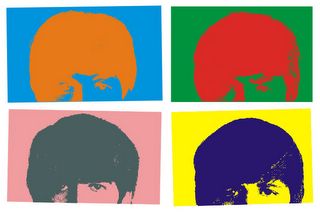Marcelo Nova está de volta a Salvador para tocar no Rock in Rio, dia 17 de setembro, sábado. Ele tambem aproveita a ocasião para lançar o seu CD de canções inéditas, O Galope do Tempo. Nova é um personagem do rock brasileiro que dispensa maiores apresentações. Nos anos 80, liderando o grupo baiano Camisa de Vênus desempenhou um papel fundamental para a consolidação do rock´n´roll em terras brasileiras. Anos depois, em dupla com o amigo e parceiro musical Raul Seixas excursionou pelo país e lançou o album A Panela do Diabo. Ao lado de Eric Burdon, vocalista da lendária banda inglesa The Animals, gravou o clássico Don´t let me be misunderstood que está registrado no disco do Camisa, Quem é você, de 1996. A partir daí desenvolveu uma parceria com Burdon e que foi apresentada ao público no álbum My secret life, lançado por este excepcional cantor em 2004. Agora, em setembro de 2005, Nova está lançando O Galope do Tempo e neste bate papo exclusivo com o Clash City Rocker Miguel Cordeiro, ele fala de seu novo trabalho e de outros assuntos.
E aí, Marcelo, o seu CD finalmente está sendo lançado. Fale sobre ele.
Este é um projeto que venho desenvolvendo há alguns bons anos. O CD chama-se O Galope do Tempo. São 70 minutos com 16 músicas e tem canções com 3 minutos, 6 minutos e até 9 minutos. Antes de mais nada, eu diria que este disco não foi feito para as viúvas do Camisa de Vênus. Estas canções têm um outro enfoque. São canções que venho compondo ao longo dos últimos 13 anos e elas tratam da minha observação do passar do tempo. Daí o nome do disco, O Galope do Tempo. É uma observação minha e própria da vida, é um trabalho autobiográfico, é a minha assinatura como compositor. Quando eu digo que não é um disco para as viúvas do Camisa é porque estas canções têm um outro tratamento, tanto musical como no aspecto das letras mas, sem dúvida, é um disco essencialmente de rock.
E as gravações?
Quando entramos no estúdio procuramos uma sonoridade que fosse capaz de reproduzir aquilo que eu imaginava. Uns dias antes das sessões de gravação eu e o Johnny Boy tocamos as canções e conversei com ele como eu queria que elas soassem. No estúdio procuramos ser o mais objetivo possível e quando fomos gravar as coisas fluíram com muita naturalidade.
Como você trabalhou esta questão da sonoridade?
Eu continuo achando que a base para um bom disco de rock ainda é aquela formação clássica: duas guitarras, baixo e bateria. Esta é a base desse meu disco. Eu e Johnny Boy nas guitarras, O Lú Stopa no baixo e o Denis Mendes na bateria. Johnny também tocou piano e órgão, e ainda tem algumas faixas com violoncelo. Esta banda que me acompanhou nas gravações é a banda que sempre tem tocado comigo, então, entre nós, já existe um entrosamento e uma grande afinidade e acho que cheguei bem próximo daquilo que eu queria. Como eu disse antes, este é um disco de rock, mas não tem nada a ver com este rock que está sendo feito no Brasil de hoje.
Você está enfatizando isto de ser um trabalho diferenciado e continuar sendo um disco de rock. E isso é interessante porque parece que no Brasil rock é só sonoridade e parece haver uma desinformação de que existe uma poética rock...
Bem lembrado! Eu percebo isso também e é por isso que faço questão de frisar que este álbum não se parece com nada que é feito em termos de rock no país. Eu vejo essas bandas que se dizem punk ou hardcore mas as letras deles são tão bobinhas que caberiam muito bem num disco de Sandy & Júnior ou do KLB. Essa falta de informação leva muita gente a pensar que só por ter guitarra distorcida a música se torna rock, e não é por aí.
Como vai ser a divulgação do disco e estas coisas?
Os custos da gravação do disco eu mesmo banquei de forma totalmente independente e sem nenhuma espécie de interferência. E após a gravação eu tive negociações com algumas gravadoras, mas elas sempre arranjam uma maneira de dar um palpite ali, te oferecer piores condições aqui ou mesmo recusar o seu trabalho. Aquela novela que a gente já conhece. Então o CD está sendo lançado por uma pequena distribuidora chamada Ouver. Assim eu tenho uma maior liberdade de ação. Por outro lado eu vou ter que me virar, né? Já fiz um clipe de uma canção que se chama Ninguem vai sair vivo daqui, que é o single deste CD. É um clipe simples, sem historinha. Apenas a banda tocando a música no estúdio. Depois vou fazer essa coisa de televisão, uma divulgação mais ampla possível. Vamos ver o que vai dar e estou disposto a percorrer todos estes caminhos porque este é um album de extrema importancia para a minha carreira. E como diria Baiaco (N.R. craque do Bahia nos anos 70 e autor de frases antológicas), “eu vou invistir nim mim”.
Como serão os shows deste album?
É como eu disse antes, este é um album muito peculiar, autobiográfico e, até mesmo, introspectivo. Penso em trabalhar este disco em teatros para 300, 400 pessoas onde elas possam perceber do que ele trata. É um disco para show em teatro. Vai ser um desafio para mim e para o meu público porque já existe aquele costume, mesmo, de quando eu entro no palco as pessoas ficarem gritando o “bota prá fuder”. Mas com este album a proposta é outra, tanto que no fim do ano farei um DVD registrando estas canções num show em teatro.
E este show vai correr o Brasil?
O objetivo é este! Mas eu continuo sendo um artista sem contrato com grandes gravadoras ou grandes empresários apesar de sempre estar fazendo shows pelo Brasil afora. Seria muito gratificante ter a possibilidade de fazer apresentações deste trabalho, neste formato, no maior numero de cidades possíveis. Mas no nosso país, o Brasil, tudo é muito complicado. Falta de grana e o Brasil tem essa incrível facilidade de inviabilizar as idéias. E, mais ainda, quando voce tem uma postura independente, voce tem de correr atrás, correr riscos. Voce bate o escanteio e voce mesmo tem de correr e tentar fazer o gol. Mesmo que seja um gol de mão...
De que maneira você enxerga esse ôba-ôba em torno dos anos 80, já que você teve uma participação importante naquele período?
Acho essa coisa de “revival” de uma época um troço meio por fora. Geralmente são feitos para pessoas que acham que o seu passado é que foi legal. O presente para elas é um saco porque elas já estão velhas, principalmente de cabeça e de idéias. Sei que eu tive um papel ali naqueles anos, mas não quero ficar preso àquilo. Sei que ocorreram coisas bacanas nos anos 80, pouquíssimas coisas, por sinal. Mas teve também muita coisa ridícula, que é o que, geralmente, é apresentado nestes “revivals”. Aquelas roupas, aqueles cabelos, aquela musiquinha insossa... E eu, com o Camisa, sempre fomos críticos ferrenhos daquilo tudo que acontecia em nossa volta, já mesmo naquela época. Éramos peixes fora daquela água.
Conversando frequentemente com você tenho conhecimento dos lugares em que você se apresenta. Capitais de estados em todo Brasil, cidades importantes do sul do país e algumas outras não tão conhecidas como Santa Adélia, Ilha Solteira, Taquaratinga (todas de São Paulo), Ubá e Viçosa (Minas Gerais), Bento Gonçalves, São Borja (Rio Grande do Sul) e por aí vai. E Salvador? Por que, apesar de ser baiano, voce se apresenta tão pouco por aqui?
Olha, estarei tocando aí em Salvador no dia 17 de setembro, no Rock in Rio. A última vez que estive por aí foi no inicio de 2004, no Festival de Verão com o Camisa de Vênus, portanto há um ano e meio. Eu gostaria muito de tocar em Salvador com mais frequência, a exemplo do que faço em Porto Alegre e em muitas cidades daqui do interior de São Paulo como Campinas, São José do Rio Preto ou Bauru. E mesmo sendo do interior paulista, às vezes acho que essas cidades já são mais adiantadas que Salvador porque nelas existe uma maior diversidade cultural. Salvador continua sendo a terra do axé e daqui me parece que na Bahia só se incentiva esta expressão artística, o que é um erro e uma característica deste atraso.
Mas, diversas vezes foi anunciado que voce tocaria aqui mas não se concretizou.
É, né? Olha, eu nasci e passei boa parte de minha vida aí, e o Camisa foi um grande sucesso em Salvador antes mesmo de fazer sucesso no Brasil. Após os primeiros shows do Camisa dezenas de bandas se formaram em Salvador, uma cena forte, Então seria mais que natural eu tocar na Bahia mas me parece que por aí todas as produtoras de eventos têm ligação com a música baiana e elas acham que eu sou um inimigo e que eu vou detonar o negócio deles. Já o pessoal da oposição que seria a parte interessada em fazer um contraponto e tentar diversificar a cena cultural, de certa forma parece também estar ligada ao esquema da música baiana, ou melhor, ao baixo clero da musica baiana. Já fui sondado algumas vezes para me apresentar num evento na Concha Acústica que é ligado a um órgão do governo estadual (N.R. Projeto Sua Nota é um Show), mas quando tudo parece estar se concretizando vem o produtor do evento com aquele argumento furado, aquela conversa fiada: “ah. Marcelo vai falar mal de ACM, Marcelo tem de segurar a língua”...Aí não dá, né? O produtor não se impõe, não tem personalidade, ele tem medo do diretor, tem medo do secretário e Marcelo Nova é que é o culpado. Para se ter uma idéia, toquei dias atrás em Campinas num evento patrocinado pela secretaria de cultura da cidade e lá não existe nenhum tipo de empecilho ou censura. Outras vezes entro em negociação com algum produtor daí, e ele vem com o papo, “mas Marcelo, eu queria trazer você mas o preço do abadá teve uma alta”... Fica até parecendo que as ações da Bolsa de Valores da Bahia são vinculadas ao preço do abadá. A motoniveladora e a monocultura da musica baiana transformou a Bahia num celeiro de mediocridade e em todos os níveis. É impressionante!
O Clashcityrockers é um blog na internet sobre assuntos diversos que, de uma forma, estão ligados ao rock´n´roll...
Legal. Realmente tem muita coisa acontecendo na internet. Meu filho Drake sempre está baixando coisas interessantes da rede, principalmente no Soulseek. O Ary, que é o cara que trabalha comigo nas produções e é quem informa através da rede os meus shows, as minhas atividades me fala que sempre estão rolando discussões por lá. Mas eu, particularmente, não tenho saco prá ficar na frente de computador, internet e essas coisas.
E o CD de Eric Burdon, cantor do Animals, que tem três músicas suas?
Esta foi uma grata surpresa! Na verdade das três canções, apenas uma é inédita: Black and White World, que escrevemos juntos. As outras duas são Coração Satânico e Garota da Motorcicleta que estão no meu album de 1994, Sessão sem fim. O Eric as traduziu para o inglês e passaram a se chamar, respectivamente, Devil´s Slide e Motorcycle Girl. E o disco dele é mesmo excelente e foi considerado um dos melhores da sua carreira. Quando ouvi o CD pela primeira vez eu fiquei emocionado, não só pelo fato de estar sendo interpretado por um dos meus ídolos de todos os tempos, um dos maiores vocalistas do rock como por estar ao lado de compositores que admiro muito, a exemplo de Leonard Cohen e David Byrne da época do Talking Heads que também estão sendo interpretados neste CD de Eric Burdon. Fiquei ouvindo o disco por horas e em homenagem derrubei uma garrafa de uísque.
Diga pros nossos leitores os CDs que voce tem ouvido ultimamente. E qual a sua opinião sobre esta nova safra de bandas que tem surgido lá fora?
Tenho ouvido um CD que os Yardbirds lançaram recentemente e que se chama Birdland que é muito legal, São oito releituras de seua clássicos e sete canções inéditas tão boas quanto. Tambem tenho ouvido muito o disco novo do Brian Setzer, guitarrista e vocalista do Stray Cats, que é um puta album de rockabilly e só com canções da Sun Records. Outro CD é o Atom Bomb dos Blind Boys of Alabama, um belo trabalho deste grupo vocal das antigas e que já tinha participado de um disco de Lou Reed. E, claro, ouço bastante o CD novo do Bruce Springsteen, Devils and Dust. Já essas bandas novas eu confesso que não tenho muito interesse. Ouço algumas coisas mas acho tudo muito vazio e efêmero, parecem miniaturas daqueles carrinhos matchbox... É certo que existem coisas interessantes mas sempre me pergunto até quando elas duram.
E o show do dia 17 de setembro aqui em Salvador no Rock in Rio?
Estou muito animado porque tocar aí na Bahia é para mim um prato cheio para fazer um contraponto a essa tal da “baianidade”. Soube que o local do show é uma casa legal, com infraestrutura e um espaço físico bem propício para shows de rock. Porque aí na Bahia tudo é muito improvisado. Ou é show em espaços abertos como o Festival de Verão ou é em barzinho sem nenhuma estrutura. O que mais me espanta é que em todos estas apresentações que faço pelo Brasil e no interior de São Paulo é constatar que estas cidades têm casas de shows de qualidade com capacidade para 500, 700 ou 1000 pessoas. Salvador isso não rola. Fico impressionado. A terceira cidade do páis com quase 3 milhões de habitantes e não tem casas para shows. Sei atraves das pessoas daí que o Rock in Rio está abrindo mais espaço para o rock´n´roll e isto é positivo. O fato de estar agora indo tocar neste lugar é muito animador e vamos ver como vai ser. Espero que o som e a parte técnica seja de qualidade
Você vai mostras músicas novas deste CD?
Claro! E muito mais. Vai ter de tudo que já fiz. E o que posso prometer é que vai ser uma grande noite de rock´n´roll.