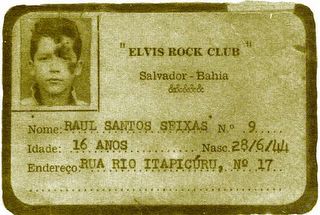. Stephen Morris, Ian Curtis, Bernard Sumner e Peter Hook.
Stephen Morris, Ian Curtis, Bernard Sumner e Peter Hook.O Clash City Rockers aproveita a passagem da data de aniversário da morte do vocalista do Joy Division, Ian Curtis para, através dos textos de dois colaboradores, tentar lançar luzes onde muitos só querem escuridão. Não são textos para os que preferem ficar nas superfícies lustrosas e vampirescas dos obituários musicais. Se não é o seu caso, conheça um pouco mais sobre a história e a importância de uma das mais influentes bandas de rock'n'roll de todos os tempos.
___________
Uma banda além do mito
por Osvaldo Júnior
Vinte e cinco anos depois e com o mito cada vez maior, o suicídio de Ian Curtis continua sendo considerado pelos seus ex-companheiros de banda e pessoas que o conheciam de perto, um ato sem o menor sentido. A imagem do visionário sombrio, autor de canções carregadas de significados soturnos como Dead Souls e New Dawn Fades, comentarista íntimo da finitude da existência humana, tão intimo da morte que ele podia senti-la, oferecendo seu suicídio como seu testamento artístico definitivo, causa risadas nos seus ex-companheiros.
Tony Wilson, ex-empresário do Joy Division/New Order, é incisivo: " na verdade Ian era um cara muito divertido". O baixista Peter Hook acrescenta, "lan era um cara normal, casado, com uma hipoteca pra pagar e que amava música apesar de sabermos de alguns problemas que enfrentava, nada levava a crer que se mataria. "O vocalista Bernard Sumner não raramente se refere a Curtis como o cara que deixou os parceiros na mão," tínhamos uma tour pela América já marcada, mas não a fizemos porque o vocalista deu cano na gente." Sumner revela uma ponta de raiva com a história toda, e é dele a melhor definição que conheço sobre o que viria a se chamar de pós-punk," O punk foi vital porque salvou o rock, mas a linguagem era restrita, se limitava a dizer: estou entediado e vá se fuder. O Joy Division procurou exprimir emoções mais complexas, em vez do vá se fuder, dizíamos, estou fudido, e desta forma criando o pós-punk."
O Joy Division, que era a banda punk Warzaw, aproveitou a mudança do nome para mudar sua concepção artística e musical. E Ian Curtis era o poeta que melhor traduzia o sentimento de opressão e contradição vividos por quatro rapazes ingleses na moderna, industrial e fria Manchester, uma cidade fundamental para compreendermos alguns dos dilemas e das contradições do mundo moderno, inclusive no "tropicaliente" Brasil. O Brasil com suas contradições esquizofrênicas é um prato cheio para esta discussão pós-punkiana: a euforia tropical diante da miséria e violência que num Brasil urbano e moderno, convivem ao mesmo tempo.
Voltando, Deborah Curtis, a viúva oficial, contradiz a visão dos ex-bandmates, e diz que Ian secretamente alimentava sentimentos suicidas, seu livro "Touching From A Distance" é a base do filme sobre a vida de Curtis, que será lançado ano próximo, no debut como diretor do badalado fotógrafo Anton Corbijn. Foi a decisão de Deborah de sair de casa que teria sido o estopim para o suicídio de Ian, Deborah descobriu que ele tinha uma amante, a belga Annik Honoré, que o acompanhou na tour européia do Joy Division em 1980. Ian tinha o caso desde 1979, quando ele a conheceu na Bélgica numa tour do Joy Division , que abria para os Buzzcocks. Annik era uma loura, glamorosa e exótica, que não demorou a se atritar com os membros da banda durante a tour. Em Colônia, Alemanha , ao saber que a banda ficaria hospedado num puteiro, deu um piti, se negando a ficar lá e carregando Ian com ela. O clima pesou, e Ian, que vinha tendo freqüentes ataques de epilepsia, começou a se deprimir com a estória toda. Não conseguia acompanhar a banda nas baladas, que eram regadas a álcool e anfetaminas, a doença estava avançando, e a briga doméstica teria sido a pá de cal (literalmente).
O fato é que o mito continua a crescer, e a transformação do Joy Division na tão ou mais influente New Order é uma das mais fantásticas jornadas de sobrevivência e transformação artística do rock, uma verdadeira saga. Mas isto é uma outra história.
Extra info que acho importante:
- O som abafado e claustrofóbico do Joy Division foi concebido pelo produtor musical Martin Hannet. Produtor da gravadora Factory de Tony Wilson, ele "criou" a ambiência sonora que deu identidade a banda. Detalhe, a banda odiou Unknown Pleasures, alias Stephen Morris é critico até hoje. Hannet, pesado usuário de heroína, produziu também Buzzcocks e Magazine , Happy Mondays, morreu em 91.
- Bono, fã assumido de Curtis, não nega que no inicio Ian era seu grande idolo.
- Aliás Tony Wilson acha que se o Joy Division fizesse a tour americana eles teriam sido grandes como o U2.
- Joy Division, ou divisão do prazer, era o local onde os comandantes nazistas levavam judias prostituídas para aliviar a tropa. O nome foi retirado do livro House of Dolls. Curtis era fascinado pelo tema, fato que levou a banda a ser acusada de usar símbolos nazistas. Depois com New Order (outra referencia nazista), Sumner disse que eram "shock tactics".
________
Here are the young men, a weight on their shoulders
por Marcos Rodrigues
Esta semana os periódicos musicais de todo o mundo estamparão fotos de Ian Curtis, vocalista do Joy Division, que cometeu suicídio há exatos vinte e cinco anos. Enforcou-se aos 23 anos de idade, dando fim a uma vida breve e início a uma lenda que está longe de esmaecer. A dimensão simbólica de morte tão trágica costuma soterrar o bom senso das análises, sobretudo quando se trata de arte. Neste caso a obra musical de uma banda que definitivamente trilhou caminhos bem peculiares.
Joy Division, o nome, inspirado no livro sadomasoquista House Of Dolls (de Karol Cetinsky), foi retirado da denominação dada à ala onde ficavam as prostitutas nos campos de concentração nazistas. O primeiro nome da banda, Warsaw, foi inspirado na música Waszawa, do album Low, de David Bowie, lançado em 1977, mesmo ano da formação do que viria a ser o Joy Division. Foi descartado, no entanto, porque descobriram uma outra banda londrina com o nome Warsaw Pakt.
Novamente uma banda inglesa, da industrial e cinzenta Manchester, com uma série de referências que extrapolam o universo da música pop. Os contornos do que representou essa cidade e suas bandas para a formatação do chamado póspunk foram timidamente delineados no filme 24 Hours Party People, que passou por aqui, mas ainda estão por merecer um texto próprio também aqui no Clash City Rockers.
De fato a coisa mais importante a acontecer no Joy Division não foi a morte de Ian Curtis, como querem os vampiros de plantão e sim, vejam só, a própria música. De uma banda punk, como milhares de outras no Reino Unido, a criadores de uma nova sonoridade, tudo foi muito rápido.
Bernard Sumner, Peter Hook, Ian Curtis e Stephen Morris, como boa parte da molecada entediada e pensante de Manchester, que veio depois a montar bandas fundamentais, estavam em 09 de dezembro de 1976 no Electric Circus, dia em que a incendiária Anarchy Tour dos Sex Pistols passou pela cidade, agregando também no palco os Buzzcocks, de Howard Devoto. Dali para os primeiros ensaios e para o início de uma pequena revolução.
Cerca de um ano depois lançavam o primeiro ep An ideal for living, ainda bastante ancorado na sonoridade punk, mas que já davam conta da carga trágica nas letras do garoto Curtis. No início de 1979 gravaram quatro músicas para o famoso programa de rádio de John Peel, para as não menos famosas Peel Sessions, onde já estavam definidas as características sonoras básicas da banda: fraseados de guitarra distorcida repetidos em loops, linhas de baixo minimalistas, herdeiras diretas da new wave novaiorquina e as batidas tribais do Gang of Four. Finalmente, em abril do mesmo ano, o primeiro album Unknown Pleasures, pela Factory Records, gravado em apenas quatro dias e meio, onde, seguindo a máxima de Nietzsche do 'torna-te o que és', o Joy Division virou o Joy Division.
O que mudou? aparentemente não muita coisa. As músicas ainda estavam mal executadas; a cada virada da bateria, um susto. E Ian Curtis desafina o tempo todo. Uma série de pequenos erros registrados em fitas de rolo, prensados em vinil e distribuidos pelo mundo. Mas enfim, existe algo diferente. O produtor do disco, Martin Hannett, havia descoberto o 'som Joy Division' ao desacelerar o tempo das músicas, gravar a bateria e a voz em reverberações altas (pensem numa catedral) e introduzir uma inovação para o rock: mixar o baixo e a bateria mais altos do que a guitarra e a voz. Pronto. Associe tudo isso a letras desesperadas, de real valor poético, cantadas por uma voz cavernosa e, com um pouco de sensibilidade, perceberá que Hannett não só lapidou um diamante bruto como fez história.
A partir dai a banda começou a ficar conhecida, ganhar capas nos semanários e a se tornar lendária, este último ponto consequência também das apresentações ao vivo, onde Ian Curtis, que sofria de epilepsia, dançava de maneira descordenada, cantando como um alucinado. Instintos que ainda podem nos trair / Uma jornada que leva até o sol / Desalmado e inclinado à destruição / Embate entre o certo e o errado / Assuma você meu lugar no confronto final / Ficarei observando com olhar cheio de desprezo / E, humilde, invocarei o perdão / Um pedido muito além de você e de mim / Coração e alma, um dos dois há de arder. Em 18 de maio de 1980, um dia antes do início da primeira tournée da banda pelos Estados Unidos, Curtis é encontrado morto na casa dos pais.
No mesmo mês sai o single Love Will Tear Us Apart, uma letra melancólica sobre uma batida disco, que coloca a banda pela primeira vez no Top 20 da Inglaterra. Um mês depois sai a obra prima, Closer. Produção muito mais cuidada, ainda à cargo de Hannett, que registra o alto grau de distanciamento sonoro do Joy Division em relação as outras bandas da época. Não é exagero dizer que o disco, um monolito conceitual, tem em muitos momentos uma atmosfera que remete a uma liturgia. Com o acréscimo de teclados etéreos o som da banda ganhou densidade dentro das estruturas ainda simples. As músicas se sucedem em títulos curtos e lacônicos; Assolation, Passover, Colony, The Eternal, Decades. O design gráfico sóbrio e clássico de Peter Saville arremata a lápide com uma das capas mais dolorosas da história do rock.
Mas então não havia mais nada a ser dito, pelo menos não naqueles termos. Ficou a intensidade de uma música e de uma poética que pode ser contemplada por todos aqueles que não têm medo das suas noites mais solitárias. Uma inversão na lógica de que o rock'n'roll só pode ser o playground da frivolidade, da fuga de si mesmo. Ficaram também três integrantes, que se reergueram sob o sugestivo nome de New Order e afastaram o fantasma de Ian Curtis, com uma história seguramente tão importante para a música dos últimos cinquenta anos quanto a do Joy Division.
Esse um quarto de década ainda ganha as devidas lembranças com o lançamento de um filme que conta a história da banda. Transmission é baseado na biografia Touching From A Distance, escrita pela viúva de Ian Curtis, Deborah, em 1995. Um monte de bobagens ainda vão ser ditas nos próximos meses, um monte de gente ainda vai endossar essas bobagens. Quem quiser, no entanto, ir além da fabricação dos consensos e dos estereótipos, deve ir diretamente aos discos do Joy Division, fechar o olhos e entender porque rock'n'roll pode ser importante. De todo o modo, o rock'n'roll não muda o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. O rock'n'roll só muda as pessoas.