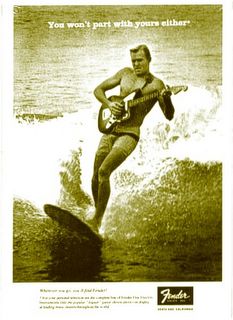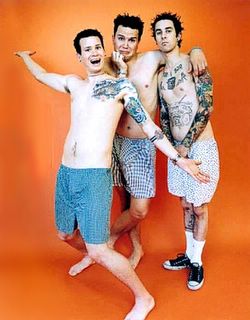.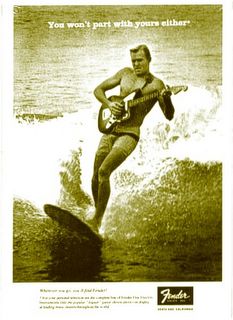 por Miguel Cordeiro
por Miguel Cordeiro
Surf e rock´n´roll sempre tiveram uma ligação muito próxima. Dos primeiros luaus nas areias californianas ainda no inicio dos anos 1950 até as viagens em busca de ondas virgens em praias desertas. É claro que os Beach Boys não foram os primeiros. Eles observaram a onda surgir no horizonte e estando no lugar certo e na hora certa, popularizaram a surf music. Jan & Dean, The Surfaris, Dick Dale, The Ventures e outros tambem estavam no mar, droparam na onda e na terra prometida Califórnia fizeram a festa de uma juventude sadia e feliz vestida em largas camisas Hang Ten, calças boca fina, bermudões floridos e tenis keds.
A tribo do surf sempre teve um gosto musical muito próprio e o intercambio entre as turmas ajudaram a expandir as preferencias. Numa surf trip que prestasse além da certeza de encontrar boas ondas era obrigatório levar um considerável estoque de fitas cassete. Certa feita, em viagem pelo nordeste, na ainda desconhecida e isolada Praia da Pipa, nossas fitas com Deep Purple e Bad Company fizeram a cabeça de surfistas de Natal que estavam por lá, e, em contrapartida, eles tinham as deles com Byrds e Buffalo Springfield que eram covardia. Não existia luz elétrica na Pipa e as baterias dos carros eram postas em prova com os toca-fitas se revezando e despejando rock´n´roll do raiar do dia até a hora de dormir.
Em outra oportunidade, ainda nos anos 1970, um velejador solitário e surfista apareceu em Salvador e o elo de aproximação foram as ondas e, claro, a música. Seu acervo de fitas era invejável e num escambo típico da idade média entregamos fitas com o melhor do rock progressivo e copiamos as suas com coisas de blues impossíveis de achar no Brasil naquela época: John Lee Hooker, Albert King, Koko Taylor, Freddie King, Howlin´ Wolf.
Festa de surf no meio dos anos 70 no Rio de Janeiro para ser boa tinha de rolar Hair of the dog do Nazareth, Steve Miller Band e Bachman-Turner Overdrive, com as cocotas dançando animadamente no salão com seus cabelões enormes, sobrancelhas grossas e calças de cintura baixa quase um palmo abaixo do umbigo.
Nos anos 1980 a Austrália apresentou ao mundo várias bandas em que um ou outro integrante, com certeza, pegava onda. Algumas eram bem chatinhas, é verdade. Mas outras valiam a pena. Hoodoo Gurus, o The Church era legal, o Triffids também e o Midnight Oil tinha uma pegada forte e gostava de passar mensagens ecológicas. No final dos incomparáveis anos 80 de Salvador, na barraca Padang Padang nas areias da praia de Stella Mares, as noites de primavera/verão eram intermináveis, gratuitas, cotidianas e todas as tribos presentes dançavam até se esbaldar com That Petrol Emotion, The Cult, Traveling Wilburys, Beds are burning do Midnight Oil etc etc.
Interessante também é quando os nativos de uma praia remota e escondida passam a curtir rock´n´roll por causa de surfistas nômades fanáticos por som. Foi assim em Itacaré entre 1977 e 1981, Na única barraquinha na praia da Tiririca que vendia cerveja para os “turistas” de Gandu e Ubaitaba, o que rolava nas caixas era o “sambão-jóia-prá frente brasil ame-o ou deixe-o” da época e quando colocávamos The Doors os tabaréus davam cambalhotas ao som de Light my fire. O dono da barraca costumava sequestrar algumas de nossas fitas, e quando voltávamos nas temporadas seguintes ele já tinha arrumado outras com Rolling Stones, Raul Seixas, Led Zeppelin e até B 52´s.
A comunidade do surf não ficou imune à explosão populacional das ultimas décadas e os picos aonde as ondas quebram têm cada vez mais surfistas, não raro se engalfinhando e impondo, tambem, as novas preferencias musicais. Então, nos últimos 15, 20 anos diversos artistas e até outros estilos foram adotadas pelos surfistas. Pennywise, Millencolin, SNFU, Offspring, o ska, o grunge, NOFX. Já o espírito baladeiro sempre acompanhou os surfistas, desde os ídolos ancestrais do folk passando por Cat Stevens, Al Stewart até chegar a Chris Isaak e Jack Johnson.
Quentin Tarantino provocou o renascimento da surf music com Pulp Fiction e os mais antigos lembraram imediatamente da cena de abertura da série televisiva Hawaii 5-0, onde uma onda perfeita quebrava em câmera lenta tendo como trilha sonora a canção-título executada pelo The Ventures.
Mas nem tudo são tubos perfeitos em praias secretas. Gosto não se discute, é verdade, mas tem coisas intragáveis que foram incorporadas ao universo surf / rock´n´roll: as xaroposas canções dos filmes de praia, a Santería do Sublime, o rap tedioso monocórdico, o trash metal atravessado descadenciado, o mangue beat nordestino e, pior ainda, o forró universitário.
E ficam para sempre as boas vibrações das surf musics radiantes dos Pixies, a calhordice dos surfistas parafinados dos Replicantes, a atmosfera tubular dos cinzentos céus de abril do Jesus & Mary Chain, a anarquia ultrajante do Nós vamos invadir sua praia, a sutileza dos Waterboys e, por fim, a descrição certeira de Neil Young em Long may you run: “talvez os Beach Boys tenham lhe pegado agora / com aquelas ondas cantando Caroline No / descendo pela vazia estrada da praia / para chegar no surf na hora certa”.
Keep on surfing keep on rocking, ou, se preferir, surf all day rock all night...